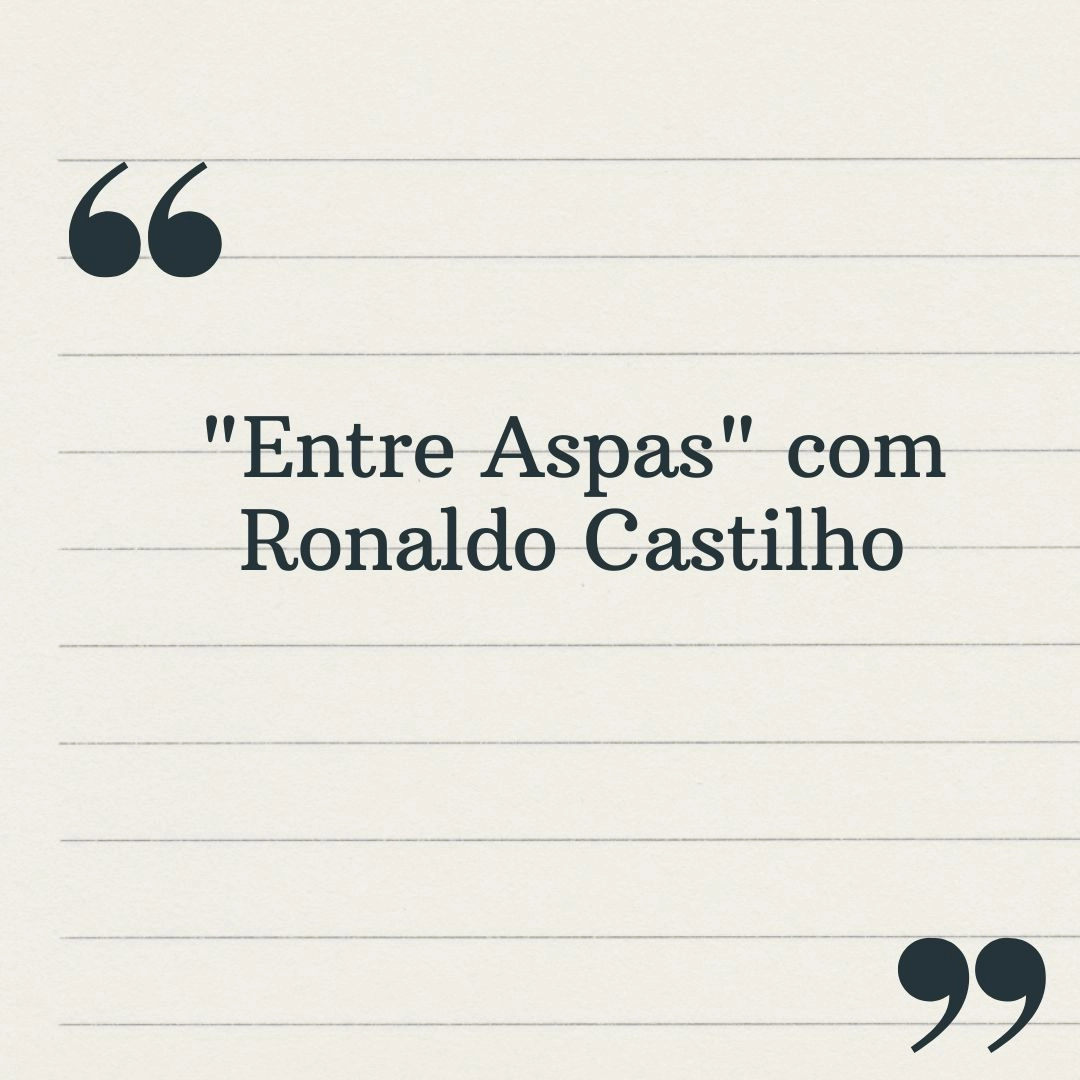Utopia e Realismo Político: Entre o Sonho e a Necessidade
Ronaldo Castilho
A política, desde suas origens, oscila entre dois polos aparentemente inconciliáveis: o ideal utópico e o realismo prático. O primeiro projeta um horizonte de transformação e perfeição social, frequentemente inatingível, mas mobilizador. O segundo busca lidar com as condições concretas da vida, com os limites impostos pela natureza humana, pela escassez de recursos e pelo jogo de interesses. Essa tensão entre sonho e pragmatismo, esperança e poder, acompanha a história do pensamento político desde a Antiguidade até os dias atuais, moldando ideologias, instituições e movimentos sociais.
Na Antiguidade clássica, já se percebia o embate entre o que seria uma sociedade perfeita e o que seria possível no exercício real do poder. Platão, em A República, apresentou a célebre concepção da cidade ideal governada por filósofos, sustentada pela justiça como princípio central. Para ele, apenas aqueles que conhecem o Bem seriam capazes de conduzir a pólis rumo à harmonia. Entretanto, a proposta platônica é marcada por um caráter nitidamente utópico, uma vez que ignora as limitações da natureza humana e das tensões sociais. Seu discípulo, Aristóteles, adotou uma postura mais realista. Para o Estagirita, a política deveria se orientar pelo possível, buscando o bem comum, mas dentro dos limites concretos da vida em comunidade. Não se tratava de idealizar a cidade perfeita, mas de aperfeiçoar as instituições já existentes, reconhecendo que o ser humano é, antes de tudo, um “animal político”.
Durante a Idade Média, a utopia política se entrelaçou com a religiosidade. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, contrapôs a cidade terrena, marcada pelo pecado e pela busca do poder, à cidade celeste, perfeita e eterna. Essa visão reforçava a ideia de que a realização plena da justiça e da paz estaria apenas no plano espiritual, não no terreno. Já no Renascimento, essa tensão foi repensada em novas bases. Thomas More, em Utopia (1516), descreveu uma sociedade imaginária onde não havia propriedade privada, as riquezas eram partilhadas e o bem comum se sobrepunha ao interesse individual. More, embora crítico da realidade de seu tempo, não escrevia apenas uma fábula, mas um exercício de imaginação política para provocar reflexão sobre os males concretos da Europa do século XVI.
O contraponto mais radical à tradição utópica viria logo em seguida com Nicolau Maquiavel. Em O Príncipe (1513), ele rejeitou o idealismo platônico e agostiniano, propondo uma análise da política baseada nos fatos, não nos sonhos. Para Maquiavel, os governantes devem agir de acordo com as circunstâncias, utilizando a virtù (força, inteligência e audácia) para controlar a fortuna (a imprevisibilidade da vida). A moral e a religião não deveriam ditar a conduta política, mas sim a necessidade de manter o poder e a estabilidade do Estado. Essa visão inaugurou o chamado realismo político moderno, no qual a eficácia é mais importante do que a pureza moral.
Nos séculos XVII e XVIII, outros pensadores reforçaram ou desafiaram esse dilema. Thomas Hobbes, em Leviatã, acreditava que o ser humano, entregue ao estado de natureza, viveria em guerra de todos contra todos. A solução seria um Estado forte e centralizador, capaz de garantir a paz, ainda que ao custo de restringir a liberdade. Trata-se de um realismo extremo, no qual a utopia da convivência harmônica é descartada. Já Jean-Jacques Rousseau resgatou a imaginação política utópica ao defender que a desigualdade social não era natural, mas fruto de instituições corrompidas. Sua proposta de contrato social e soberania popular apontava para uma ordem política mais justa, ainda que exigisse um “cidadão virtuoso” difícil de encontrar no mundo real.
Com a Revolução Francesa, a utopia e o realismo se confrontaram de maneira prática. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade mobilizaram massas, mas os líderes tiveram de lidar com a violência, a instabilidade e a necessidade de governar. O sonho da fraternidade universal se viu manchado pelo sangue da guilhotina. Essa contradição se repetiria no século XIX, quando Karl Marx e Friedrich Engels imaginaram a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade comunista sem classes e sem Estado. Embora Marx rejeitasse a classificação de “utópico” (que ele reservava a socialistas anteriores), sua visão continha traços utópicos de emancipação universal. Ao mesmo tempo, sua análise do capitalismo partia de uma observação rigorosa das contradições reais do sistema, unindo elementos de crítica concreta e projeção ideal.
No campo oposto, pensadores como Max Weber ressaltaram a dimensão realista da política. Weber descreveu a política como o espaço da luta pelo poder e distinguiu entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Enquanto a primeira se guia por princípios absolutos, a segunda leva em conta as consequências das ações no mundo real. Para Weber, um político responsável não pode se dar ao luxo de agir apenas com base em ideais; precisa lidar com as imperfeições e limites da realidade.
No século XX, marcado por guerras mundiais, regimes totalitários e avanços democráticos, o debate entre utopia e realismo ganhou novas camadas. Hannah Arendt, ao refletir sobre o totalitarismo, alertou para os riscos das utopias políticas que buscam a perfeição absoluta, frequentemente degenerando em tirania. Para ela, a política deveria se fundamentar na pluralidade e no diálogo, aceitando a imperfeição humana como condição inevitável. Já Antonio Gramsci, marxista italiano, desenvolveu a noção de “otimismo da vontade e pessimismo da razão”, reconhecendo a dureza da realidade, mas defendendo que a luta política exige esperança e capacidade de sonhar.
Hoje, no século XXI, vivemos novamente a tensão entre utopia e realismo. As crises climáticas, econômicas e políticas colocam em xeque a viabilidade de soluções puramente pragmáticas. Sonhos de sociedades sustentáveis, justas e inclusivas surgem em movimentos sociais, muitas vezes tachados de utópicos. Ao mesmo tempo, governantes enfrentam as restrições de orçamentos, geopolítica e interesses corporativos, que limitam a realização desses projetos. A política contemporânea, em grande medida, repete o dilema que acompanhou Platão e Maquiavel: é possível conciliar ideais de transformação com as exigências da realidade?
Na minha visão, a verdadeira política não pode se contentar com nenhum dos extremos. A utopia, sozinha, corre o risco de se tornar tirânica ou ilusória; o realismo, isolado, pode se degenerar em cinismo ou mera administração do presente. É no equilíbrio entre ambos que se encontra o caminho mais fecundo: a utopia deve servir como horizonte, como estrela-guia que inspira movimentos e mobiliza consciências, enquanto o realismo deve ser o chão firme que lembra os limites e as condições concretas do agir político.
A história mostra que nenhuma grande transformação social nasceu apenas de cálculos pragmáticos; sempre houve uma chama utópica, uma esperança de mudança. Ao mesmo tempo, nenhum sonho sobrevive sem ser testado na realidade, adaptado e transformado em políticas viáveis. O desafio das democracias contemporâneas é justamente este: sonhar sem se afastar demais do possível, agir sem perder de vista o desejável.
Assim, utopia e realismo político não são polos inconciliáveis, mas dimensões complementares. Platão e Maquiavel, More e Hobbes, Marx e Weber, Arendt e Gramsci — todos, à sua maneira, nos lembram que a política é feita tanto de sonhos quanto de necessidades. Talvez o futuro da humanidade dependa da nossa capacidade de sonhar com os pés no chão: projetar mundos melhores, sem esquecer que eles só podem ser construídos no terreno imperfeito da realidade.
Ronaldo Castilho é jornalista, bacharel em Teologia e Ciência Política, com MBA em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes e pós-graduação em Jornalismo Digital.