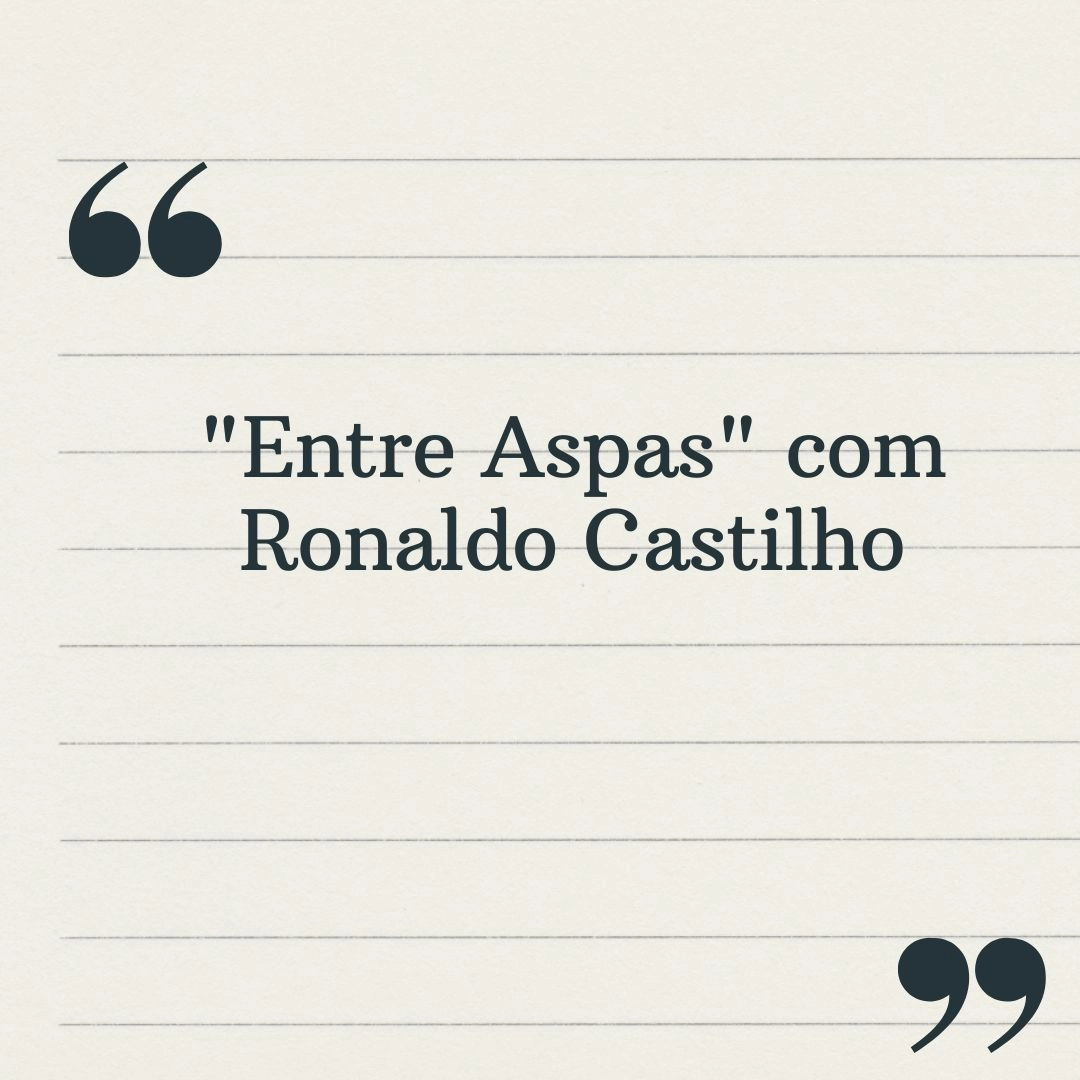Memória, história e identidade: uma análise da construção narrativa social
Ronaldo Castilho
A construção das narrativas históricas é um processo complexo que envolve não apenas a coleta de fatos, mas, sobretudo, a maneira como os povos se lembram, interpretam e ressignificam os acontecimentos ao longo do tempo. História e memória, embora distintas, caminham lado a lado na formação da identidade coletiva. A história busca, por meio de métodos científicos, estabelecer uma compreensão objetiva do passado; já a memória é subjetiva, emocional, seletiva, e muitas vezes moldada pelas necessidades presentes de um grupo ou nação. Essa tensão entre história e memória é o que torna o estudo das narrativas históricas tão desafiador e fascinante.
O filósofo francês Paul Ricoeur, em sua obra A memória, a história, o esquecimento, destaca que a memória está sujeita ao esquecimento e à manipulação, o que nos obriga a uma vigilância ética diante da história. Para ele, há uma responsabilidade moral na forma como lembramos e narramos o passado, principalmente quando lidamos com traumas coletivos, como guerras, genocídios ou ditaduras. Assim, a memória não pode ser tomada como verdade absoluta, mas como um ponto de partida para o diálogo entre versões e experiências distintas.
Já o historiador italiano Carlo Ginzburg chama a atenção para a importância das “vozes apagadas” da história. Em seus estudos de micro história, ele demonstra como as narrativas oficiais muitas vezes excluem os indivíduos comuns, os marginalizados, os vencidos. Ginzburg propõe que a história seja construída também a partir dos fragmentos, das pistas deixadas por aqueles que não tiveram acesso ao poder de escrever sua versão dos fatos. Nesse sentido, a memória popular — mesmo que fragmentada — tem um papel fundamental na reconstrução de uma história mais plural e justa.
O filósofo alemão Walter Benjamin, por sua vez, criticava o conceito de progresso linear da história e advertia que o passado não pode ser visto como algo fixo e encerrado. Em suas teses sobre o conceito de história, Benjamin escreve que “nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer”. Para ele, a história oficial muitas vezes serve aos interesses dos dominadores, silenciando as rupturas e os momentos de resistência. É preciso, então, resgatar as memórias interrompidas, as possibilidades não concretizadas, as lutas que foram sufocadas, mas que ainda podem inspirar novas formas de ver o presente.
Por outro lado, pensadores como o francês Ernest Renan reconhecem a importância do esquecimento na construção nacional. Em sua célebre conferência O que é uma nação? Renan afirma que “o esquecimento, e até mesmo o erro histórico, são um fator essencial na criação de uma nação”. Essa ideia é provocativa porque mostra que muitas vezes as identidades coletivas são fundadas não sobre verdades incontestáveis, mas sobre mitos compartilhados e convenientes. Em outras palavras, as nações precisam escolher o que lembrar e o que esquecer para garantir sua coesão interna.
Ao longo do século XX, diversos movimentos sociais e culturais passaram a reivindicar o direito à memória. Grupos historicamente silenciados — como povos indígenas, comunidades negras, trabalhadores, mulheres e minorias políticas — começaram a reconstruir suas histórias, frequentemente marginalizadas pelos discursos hegemônicos. Essa valorização das memórias periféricas contribui para um entendimento mais inclusivo e honesto da trajetória dos povos. Como lembra a socióloga brasileira Vera Maria Candau, “a memória é sempre uma construção política, cultural e histórica, nunca neutra”.
Essa disputa pela memória se torna ainda mais evidente em tempos de polarização política e revisionismo histórico. Em diferentes partes do mundo, monumentos são derrubados ou recontextualizados, livros escolares são reescritos, e debates acalorados emergem em torno de datas comemorativas e heróis nacionais. Esses embates revelam que a história não é apenas um registro do que aconteceu, mas um território simbólico onde se travam lutas por reconhecimento, poder e pertencimento. Reivindicar a memória de um grupo é, muitas vezes, um ato de resistência e afirmação de identidade.
A filósofa estadunidense Hannah Arendt também contribui para essa reflexão ao afirmar que “o perdão e a promessa são as únicas formas de nos reconciliarmos com o passado e de projetarmos um futuro comum”. Isso nos lembra que a maneira como olhamos para a nossa história influencia diretamente a forma como nos organizamos como sociedade no presente. Ao negar injustiças passadas ou impedir que certas vozes sejam ouvidas, comprometemos a possibilidade de um futuro mais equitativo e reconciliado.
Nesse contexto, a educação tem papel fundamental. Não basta ensinar datas e eventos; é preciso desenvolver no aluno o senso crítico e o entendimento de que a história é construída por múltiplas narrativas. Devemos formar cidadãos capazes de questionar, analisar e compreender que os fatos históricos são frequentemente atravessados por interesses de classe, ideologia, religião e cultura. A construção de uma memória coletiva justa exige escuta, respeito e empatia pelas diferentes vivências humanas.
Portanto, a construção das narrativas históricas é um campo de disputas simbólicas, onde memória e história se entrelaçam em busca de sentido. Os povos constroem suas narrativas não apenas para compreender o que passou, mas para afirmar quem são e o que desejam ser. Reconhecer essa dinâmica é essencial para não se deixar aprisionar por versões únicas do passado, mas sim abrir espaço para a diversidade de experiências e para a construção de um futuro mais consciente e democrático. Afinal, como bem disse George Orwell, “quem controla o passado, controla o futuro; quem controla o presente, controla o passado”.
Ronaldo Castilho é jornalista, bacharel em Teologia e Ciência Política, com MBA em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes e pós-graduação em Jornalismo Digital.